
Mostrar que as periferias são lugares de criatividade e soluções é o objetivo da cineasta e comunicadora Ana Carolina Martins. E ela faz isso a partir de sua própria história, de mulher periférica e negra, que não se conformou com o lugar que lhe reservaram na sociedade e foi em busca de uma atuação que contemplasse sua ânsia criativa e por impacto social.
Aos 32 anos, é diretora executiva e criativa da Visionária Lab, empresa do setor 2,5 (ou seja, uma empresa social, que mistura a estrutura de uma ONG (setor 3) com a de uma empresa privada (setor 2), só que tem propósito), que presta serviços de comunicação para organizações e empresas que queiram falar diretamente com a população de comunidades periféricas.
Tudo começou quando, aos 27 anos, Ana Carolina resolveu mudar de rumo profissional, largar o trabalho formal e investir na produção do documentário Visionários da Quebrada, “um filme inspiracional, com olhar de abundância nas periferias, para descolonizar o olhar”, contou ao blog Mulheres Ativistas do Conexão Planeta.
Por que realizou o documentário ‘Visionários da Quebrada’?
Sou do Capão Redondo, em São Paulo, uma das maiores periferias do Brasil. É o território ao qual pertenço e a partir do qual vejo o mundo, mas atravessei a ponte e transito em outros ambientes. Quando, aos 27 anos, fiz uma transição profissional e resolvi ser independente, criei o Visionários da Quebrada, meu primeiro projeto autoral. É um projeto audiovisual de cinema comunitário. Também chamo de filme processo ou filme pesquisa, com ações de impacto social atreladas a ele.
Foi realizado por um coletivo de jovens negros periféricos, em um processo criativo junto com as nossas comunidades. Foram três anos entre criação, captação de recursos e produção, tudo via financiamento coletivo e edital.
A ideia era realizar entrevistas para o Youtube, mas o trabalho virou um longa-metragem ao longo da execução. Passamos por várias etapas, trouxemos ferramentas de autoconhecimento, inclusive com a equipe – quatro pessoas inicialmente, além de seis pessoas na pós-produção. Colocamos nossas vozes, pretas, plurais e pensantes, mostramos quem contava a história.
O que traz o filme?
O documentário tem 1h20 e conta histórias de pessoas que fazem transformações nas periferias, polos de inovação da cidade. O objetivo é mostrar como inovações acontecem por lá, para que as pessoas olhem que as periferias têm movimentado transformações, em diversas áreas, como gastronomia e moda.
Apresenta dez personagens – importantes lideranças – e dez projetos de empreendedorismo social. Mas é mais do que isso, pois traz corpos negros, LGBTQIA+, jovens e não jovens, com várias perspectivas filosóficas e experiências de vida.
É um filme inspiracional, com olhar de abundância nas periferias, para descolonizar o olhar sobre corpos pretos e territórios populares. Para mim, foi quase um mestrado, com metodologias inspiradas no setor corporativo, de inovação e totalmente centrado nas pessoas, que mapeou novos processos criativos e a importância da reconstrução de nossas identidades.
Qual o impacto do projeto?
Lançamos o filme em 2018 e apresentamos o filme em diversos lugares. Tivemos distribuição independente em cinemas, mas também diversas e importantes exibições nas periferias, em parceria com a Spcine. Rodamos São Paulo e outros estados como Rio de Janeiro, Acre, Bahia, Roraima, Maranhão, Santa Catarina. Tivemos uma recente exibição na Mostra Cine Brazil, em Londres.
Percebemos que o mercado consumia o filme de outra forma, numa análise puramente cinematográfica. Mas para nós, o filme ia muito além. Realizamos oficinas para jovens, sobre novas narrativas (storytelling), produzimos conteúdos em diversos formatos e participamos ativamente de projetos de impacto social. Estamos no levante – não adianta mostrar que a sociedade é racista, precisamos expor novas formas de produzir e gerar novas economias.
Estávamos no processo de lançamento quando houve as eleições de 2018 e o filme serviu para espantar um pouco o desânimo, com seu conteúdo mais poético, ativista, com a construção de narrativas de potências e soluções para um futuro possível.
Por que contar essas histórias é tão importante para você?
Conto a história do Brasil real, do Brasil que se repete, do ponto de vista político, histórico e social, dia após dia. Venho de uma família multirracial, com cores e valores diversos, com a presença de mulheres fortes, vizinhas que se ajudavam, mulheres que precisam se responsabilizar por todas as ausências de direitos e que sofrem duramente com o impacto da forte violência do Estado sobre os corpos e vidas de seus filhos e companheiros.
Minha mãe é do interior de São Paulo, mas foi criada na cidade. Uma mulher que vivenciou dificuldades extremas, situações que nenhuma criança ou jovem deveria ser submetido neste país. Minha avó, que não conheci, ainda criança foi vítima de estupro e abandono, encontrou nas ruas a saída para a sobrevivência, garota de programa, dançarina, flanelinha: sobrevivente.
Minha mãe, uma mulher brilhante, inteligente e muito generosa, construiu sua família a partir desse lugar de sobrevivente, mas quebrando ciclos de exploração de gerações – foi alicerce e nos formou para o futuro. Educação, oportunidades e muita sorte.
Um lar com amor, uma busca diária por melhores condições de vida e uma comunidade (Jardim São Bento Novo) – amigas, vizinhos e redes de apoio que tecem histórias de sobrevivência.
Resistimos a todas as marcas e violências, fruto da injustiça e humilhação social para com afrodescendentes, mulheres, LGBTQIA+ e indígenas neste país. Temos muitas histórias importantes para contar, da ancestralidade ao afrofuturismo, experiências e saberes ignorados, que são o caminho para a inovação da sociedade, pessoas e realidades que podem apontar soluções e mudanças reais no Brasil.
Quais foram essas condições de que você fala?
Minha mãe contou com instituições de caridade, rede de solidariedade, para garantir uma educação básica de qualidade para nós. Eu e meus irmãos estudamos no Lar das Crianças, uma organização da comunidade israelita, que fica em Santo Amaro, em São Paulo. Tive uma educação padrão e de boa qualidade.
Fiquei no Lar das Crianças dos 7 aos 14 anos. Não era contraturno escolar, parte como interna e parte no contraturno escolar. Em alguns momentos, ia para casa apenas nos finais de semana. Minha mãe dependeu dessa organização social para dar esse salto geracional e romper com ciclos de pobreza e violência.
Fui criada em dois universos: um bem institucional, mas com acesso a oportunidades, e outro cheio de diversidade, cultura e criatividade, mas com muitos desafios estruturais. Comecei a compreender bem cedo que existiam muitas realidades diversas. Isso me fez alguém que consegue circular em muitos ambientes, mas sempre consciente de que “Eu sou o meu lugar”, em conexão com a minha história e minha comunidade.
Como é viver dentro dessa dualidade?
Fui educada para trabalhar no centro, aprendi como me comportar dentro do ambiente de branquitude. É como ser formada em duas línguas, uma da quebrada, de onde vim, e outra da região central, de classe média. Não é fácil de vivenciar, foi difícil chegar aqui, o racismo não descansa.
Sou a filha mais velha e tinha que me colocar à disposição, sempre em trabalhos operacionais em lojas. No colegial, consegui bolsa também com apoio do Lar das Crianças, e fui para um colégio integral em Campos do Jordão, o Senac Escola, pensando em profissionalização. Consegui bolsa de estudo para ser técnica em hotelaria, mas não concluí. Voltei para São Paulo aos 17 anos sem saber para onde ir.
Fui trabalhar em telemarketing e construí toda minha trajetória a partir de trabalhos muito operacionais e poucas chances reais de desenvolvimento. Penso, logo resisto! No trabalho que conduzo hoje, tenho a honra de poder ampliar vozes e narrativas pretas, periféricas, femininas e plurais, para relembrar a todos que nós estamos aqui. E nós sempre estivemos aqui! Resistindo e prosperando.
O que te moveu a buscar outros rumos?
Queria ser psicóloga, jornalista, bióloga, mas tudo isso era algo muito distante para uma menina pobre. Não tinha grandes sonhos, acho que eu aproveitava oportunidades. Muitos dos meus potenciais fui descobrindo com o tempo, como a área de comunicação na qual trabalho hoje.
Novamente com bolsa de estudos, me formei tecnóloga em marketing, para atuar em empresas. O objetivo, na época, era trabalhar de segunda a sexta. Fiz faculdade trabalhando. Consegui entrar no mercado corporativo, como consultora de vendas, era o que tinham para mim. Logo percebi que tecnólogo era uma qualificação muito mal vista no Brasil, principalmente pelos RH.
Caí em mil armadilhas e tive que construir estratégias para não aceitar só o que me era oferecido. Fui para o setor de impacto social para crescer profissionalmente, mas escolhi, em determinado momento, destravar essas questões, a partir da busca do que eu desejava fazer. Com 27 anos, não queria mais apenas sobreviver, fazer coisas que feriam a minha própria existência. Não queria mais alisar o cabelo, usar salto, buscava um processo de descolonização e liberdade criativa. Entrei em um programa para lideranças jovens da Fundação Arymax, da qual fiz parte da segunda turma de selecionados do programa.
O que mudou a partir daí?
O programa foi decisivo na minha carreira, mais uma vez a partir da comunidade judaica. Participei de uma rede com diversos jovens, inclusive brancos e de classe média alta. O programa tinha alguma diversidade, ainda que a presença de negros e negras seja sempre um ponto distante da representatividade no país.
Consegui sair do setor corporativo, fiz uma transição de carreira, onde atuei como gerente de projetos em startup de inovação social, e uma fase mais autônoma, onde prestei serviços como facilitadora, comunicadora e educadora atuando nas comunidades periféricas.
Aprendi muito no setor social, mas entendi que não contemplava meu lado criativo – ainda é um setor formal, com uma narrativa distante das nossas realidades. Por isso fui em busca de criar novos modelos de trabalho e como empreendedora resolvi empreender em rede com pessoas e trajetórias que partam de um lugar em comum: o desejo de criar e contar novas histórias, histórias que transformam histórias.
A Visionária Lab surgiu desse processo de busca?
Sim, descobri que sou uma profissional de comunicação e educação – psicanálise, cinema e audiovisual são ferramentas. Sou uma comunicadora e pesquisadora que procura encontrar soluções por meio das minhas experiências e da experiência de outras pessoas. A Visionária Lab é um laboratório de inovação em narrativas. Criação de conteúdo de impacto e curadoria de conhecimento. Um pouco de nosso trabalho está no Canal Preto.
Abri a empresa, junto com minhas sócias Maria Clara Magalhães e Monique Ramos, em outubro de 2019. Assim que formalizamos a sociedade, em fevereiro, já encaramos a pandemia. Se conseguirmos nos manter de pé, sairemos disso muito fortalecidas.
Somos uma cooperativa de profissionais, uma comunidade criativa, empreendemos coletivamente. Defendemos o lema “nada sobre nós, sem nós”.
Hoje o mercado conta com diversas produtoras, criadores e criadoras incríveis, negócios de impacto, produtos e serviços com muita excelência. Inclusão (ou invasão) de novos fornecedores para toda a cadeia de produtiva. Não faz mais sentido excluir a gente dos processos criativos e de criação de nossas próprias experiências e identidades.
Trabalhamos para nos manter nesse segmento de empreendedorismo de impacto com resultados concretos. Distribuição de renda, inclusão produtiva e muita resistência criativa. Chamamos laboratório porque construímos inovações para uma indústria que está atrasada e que não tem uma leitura real dos usuários, clientes e consumidores brasileiros.
Com o documentário, descobrimos o começo de uma fórmula. Hoje temos investido para ter mais estrutura e um planejamento para trabalhar com processos colaborativos com conexões e relações 360.
Neste momento, somos um modelo de negócio híbrido: olhamos para as melhores práticas dos setores, somos designers de solução, não tem um só formato que nos contemple, mas percebemos que era importante sermos uma empresa, ter uma formalização – ter CNPJ é uma etapa essencial para pessoas afro empreendedoras.
Precisamos hackear as estruturas racistas para criar novas formas de diálogo com a sociedade brasileira e avançarmos como nação democrática, diversa e plural.
Edição: Mônica Nunes
Foto: arquivo pessoal









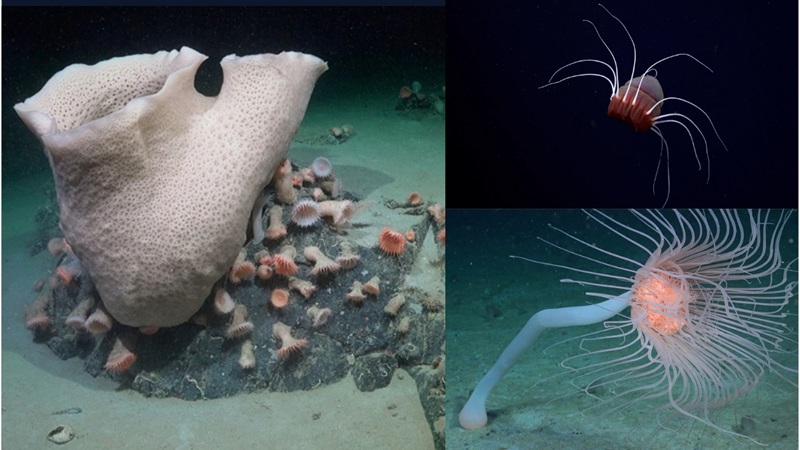




Adorei a matéria, história linda de luta e superação! Parabéns aos envolvidos!